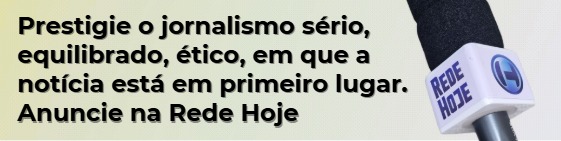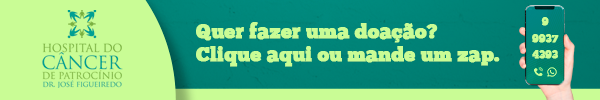Luiz Antôno Costa | Contos do Caminho
A Praça Honorato Borges, com seus bancos gastos e brisa preguiçosa de fim de tarde, era o cenário ideal para o mestre Juca Xavier praticar o que ele chamava de curiosidade socialmente aceitável — ou, em bom português: ouvir conversa alheia sem nenhum pudor.
Naquele dia, ele esperava o amigo Astrogildo, que invariavelmente chegava atrasado, justificando o atraso com alguma desculpa sobre o “trânsito”, mas ele morava logo alí, na Cesário Alvim. Enquanto isso, Juca se esparramava no banco, o chapéu jogado de lado, e os ouvidos em modo parabólica.
Bem à frente, dois setentões — Zé Pequeno, magro e nervoso, e Gaspar, gorducho e dono de um chapéu que parecia ter mais história que ele — travavam uma discussão digna de tese de mestrado. O assunto? Música romântica dos anos 70.
— Eu te digo, Gaspar, não tem nada que bata um bom romance ao som de “Summer Holiday”. O Terry Winter era um poeta internacional! — dizia Zé Pequeno.
— Poeta? Que nada! — retrucou Gaspar. — O que era bom mesmo era a profundidade do Morris Albert em “Feelings”. Isso sim é gringo de qualidade! E não me venha com esse Mark Davis e o “Don’t Let Me Cry”, que é mais melancólico que conta de luz atrasada!
Juca arregalou um sorriso. Aquilo era um convite divino à intromissão. O tema o transportou direto aos tempos da Churrascaria Alvorada, quando ele ainda desfilava costeletas de respeito e gastava metade do salário comprando LPs na Jolheiria França, o templo do vinil importado.
Não resistiu. Levantou-se, ajeitou o boné e foi até eles com aquele ar de quem tem a chave secreta do universo pop.
— Com licença, meus caros, mas o papo de vocês tá bom demais pra eu ficar quieto. Vocês tão mexendo com coisa sagrada pra mim! Música dos anos 70? Eu conheço de trás pra frente e de baixo pra cima. E já vou logo avisando: esses “gringos” de vocês... são tudo gringos de araque!
Os dois senhores se encolheram como se tivessem levado um choque de 220 volts.
— O quê?! Como é que você sabe disso, bicho? — espantou-se Zé Pequeno.
— É! Quem é você pra atravessar nossa conversa e ainda detonar nossos ídolos de juventude assim? — completou Gaspar.
Juca respirou fundo, o sorriso confiante de quem está prestes a dar uma aula de história musical.
— Pois preparem-se, meus nobres senhores, porque lá vem revelação! Nos anos 70, a coisa mais fácil do mundo era ser gringo no Brasil. As gravadoras perceberam o truque: o público queria música com aquele “sotaque” importado, ar de Hollywood Boulevard — o lar da Calçada da Fama, onde as estrelas homenageiam celebridades. E qual foi a solução? Transformar brasileiros em gringos de grife!
— Não acredito! O Terry Winter não é americano? — perguntou Zé Pequeno, boquiaberto.
— Americano nada! — respondeu Juca, rindo. — Terry Winter era Thomas William Standen, carioca da gema! E o Morris Albert, o de “Feelings”? Outro “internacional” que, na verdade, era Maurício Alberto Kurlender, brasileiro dos bons.
— E o Mark Davis? — interrompeu Gaspar, incrédulo.
— Ah, o Mark Davis... esse é a cereja do bolo! O homem era Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, que o Brasil inteiro conhece hoje como Fábio Júnior! Gravava em inglês forçado e evitava falar em shows pra ninguém descobrir que não falava inglês! O hit dele, “Don’t Let Me Cry”, foi tema da novela A Barba Azul da TV Tupi, em 1974. O sucesso foi tanto que as gravadoras quiseram mantê-lo como “misterioso cantor estrangeiro”. Mas ele cansou da farsa — e, em 1976, deu fim ao Mark Davis pra nascer como Fábio Júnior de verdade.
Gaspar arregalou os olhos, meio tonto com a avalanche de informações.
— Então o cara do “Don’t Let Me Cry” era o Fábio Júnior?
— O próprio! — confirmou Juca. — E tem mais: aquele que cantava “(If You Could) Remember”, o tal Tony Stevens, também era da terrinha. O nome real dele? Jessé Gomes da Silva Filho — sim, o mesmo Jessé que depois arrepiou o Brasil com “Voa Liberdade” e ganhou o Festival dos Festivais da Globo com “Estrela de Papel”! Antes disso, gravava em inglês pra parecer importado. Tudo fachada das gravadoras pra vender disco. Eles lançaram anos depois o "Hits Brasil", que juntou vários cantores brasileiros num mesmo album.
Os dois senhores estavam boquiabertos, e Juca, embalado pela empolgação, continuava sua aula na praça como se fosse um professor pop de calçada.
— E tem mais! Vocês lembram dos Pholhas?
— “My Mistake”! Claro! Eu tinha esse compacto! — respondeu Zé Pequeno, animado.
— Pois é. Aquilo era rock progressivo brasileiro, feito em São Paulo. Som inglês, jeitão inglês nas capas dos discos, mas 100% nacional.
Juca fez uma pausa dramática, olhou pros dois e apontou o dedo como quem revela o segredo final.
— Mas o auge dessa “cópia de luxo” era o grupo Os Carbonos!
— “Os Carbonos”? Nunca ouvi falar — disse Gaspar.
— Pois devia! Eram os irmãos Carezzato e companhia. Músicos de estúdio talentosíssimos, tocaram em discos de meio mundo. Gravaram mais de 50 mil canções, acompanharam Gal Costa em “Que Pena”, Roberto Carlos, e até fizeram trilha de novela como “Dancin' Days”.
E não era só isso: eles faziam muita música instrumental também! A mais famosa é “Passion Love Theme”, um sucesso que a gravadora lançou usando outro nome — The Magnetic Sounds — como se fosse uma banda estrangeira. Mas quem tocava mesmo eram Os Carbonos! Eles mesmos só ficaram sabendo do lançamento do disco original porque ouviram numa rádio em São Paulo.
O nome do grupo não era à toa: “Carbonos” porque eles copiavam os sucessos internacionais com a fidelidade de um papel carbono! Eles eram a base secreta do pop brasileiro, moldando o som que o público achava que vinha de fora.
Gaspar olhou para o chão, balançando a cabeça, entre espanto e nostalgia.
— Inacreditável... E a gente achando que tava ouvindo os gringos de verdade... — murmurou.
— Puxa vida... Terry Winter, Morris Albert, Pholhas, Mark Davis... todos falsos gringos! — completou Zé Pequeno.
Juca deu aquele sorriso de quem encerra palestra com chave de ouro.
— Pois é, meus amigos. A vida é uma piada bem ensaiada. A música pode até ter sotaque, mas o talento não precisa de passaporte.
Os dois se levantaram, ainda atordoados, e foram embora comentando o golpe da juventude, enquanto Juca se espreguiçava satisfeito. Foi então que apareceu Astrogildo, apressado e sorridente.
— E aí, Juca, quem eram os velhotes?
— Ah, só dois rapazes que eu acabei de educar sobre a verdadeira história do pop brasileiro.
— E aí, bora?
— Bora. Vai começar o jogo do Cruzeiro e a cerveja no Bar Itapoã não se espera.
Juca levantou-se, ajeitou o boné e soltou a frase que ficou ecoando pela praça como um refrão:
— Quem tem história pra contar, não precisa de convite pra sentar.
E lá se foram os dois amigos, deixando a Praça Honorato Borges um pouco mais sábia — e a música pop, um pouco mais divertida.
Esta obra é uma peça de ficção, baseada em dados reais. Qualquer semelhança (de personagens ou situações) com a realidade será mera coincidência. A imagem de capa/ilustração é da série de discos do SBT intitulada Hits Brasil. Este conto fará parte do livro "Contos do Caminho", do autor.