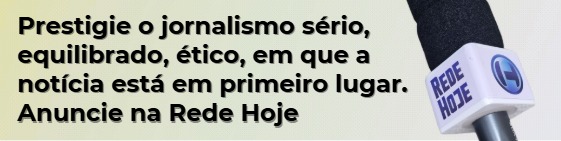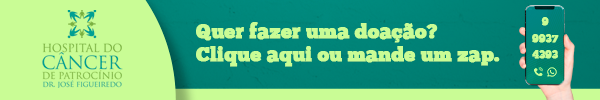CONTO | O Preço da Arrogância | Luiz Antônio Costa
Era um Brasil que acabava de se livrar da escravidão no papel, mas não no coração dos homens. O Coronel Leôncio Pena tinha um filho, Alonso, um rapazinho pálido e soberbo que, mesmo sem as rédeas do latifúndio, já tratava os trabalhadores como se fossem sua propriedade.
Zé dos Reis, um homem de ombros largos e poucas palavras, mas olhos que guardavam o fogo da dignidade, não aguentava mais. O salário era miséria, e a humilhação, diária.
Numa tarde quente, Zé abordou Alonso perto do depósito de ferramentas.
Zé dos Reis: — Seu Alonso. Eu preciso falar com o senhor.
Alonso Pena: (Rindo, sem largar o chicote que girava na mão) — Fala, crioulo. Seja breve, que o sol está forte e minha paciência está curta. O que é que tem de tão importante que não pode esperar?
Zé dos Reis: — É sobre o tratamento, seu Alonso. O senhor e seu pai tratam a gente como... como bicho. A gente trabalha do sol ao sol por um punhado de farinha e ainda tem que aturar a falta de respeito.
Alonso parou de rir, o sorriso sumindo para dar lugar a uma máscara de ódio congelado.
Alonso Pena: — Escute aqui, Zé. Você come, você dorme, você tem teto. Eu e meu pai damos isso a você. Sua vida vale o que a gente paga, nem um tostão a mais. Você é um liberto que devia estar agradecendo de joelhos por ter um lugar para trabalhar.
Zé dos Reis: — Eu sou um homem, seu Alonso! Não sou escravo. Eu quero o salário justo e o respeito que mereço!
Alonso Pena: — Respeito? De um negro como você? (Ele deu um passo à frente, batendo a bota empoeirada no chão.) Você tá achando que isso aqui é roda de capoeira, Zé? É a fazenda do meu pai! E na fazenda, quem manda sou eu! Você quer respeito? Vou te mostrar o respeito que eu dou para insolente!
A discussão escalou. Alonso partiu para a agressão física, a fúria da autoridade desafiada cegando-o. Zé dos Reis revidou o empurrão, mas a briga durou pouco. Um brilho de metal sob o sol, um grito abafado. O golpe de punhal de Alonso encontrou o peito de Zé, derrubando-o.
O jovem Pena olhou o corpo de Zé, seu peito ofegante se acalmando, e não demonstrou remorso. Quando a polícia chegou (trazida pelos homens do Coronel Leôncio), ouviram apenas o lado do "futuro dono da terra". A justiça vestiu o lençol branco e ignorou o sangue de Zé dos Reis. Alonso, intocável, tornou-se ainda mais arrogante.
Os anos correram como a água suja de uma enxurrada. Alonso herdou a fazenda, comprou as terras dos pequenos vizinhos empobrecidos (tomou, na verdade) e virou o Coronel Alonso Pena. Um empresário rural, nas palavras da época. Um tirano, na boca do povo.
Raimundo dos Reis, o filho de Zé, cresceu com a sombra do pai e o peso da injustiça. Ele continuou trabalhando na fazenda, um homem forte, silencioso, que jamais olhava o Coronel Alonso nos olhos. Guardava a dor e o luto como um tesouro amargo.
Naquela manhã, o sol alto já queimava a nuca. Raimundo estava sentado na beira do Córrego do Suspiro, aproveitando a meia hora do almoço. Ele mastigava a farinha com um pedaço de rapadura e observava a água correr.
O som do casco de um cavalo quebrando o silêncio fez Raimundo erguer os olhos. Era o Coronel Alonso Pena, grande e imponente, descendo a margem do riacho.
Coronel Alonso: — Então, crioulo. Como sempre no seu desmazelo, relaxamento?
Raimundo se levantou um pouco, mas permaneceu agachado, sem pressa.
Raimundo dos Reis: — Que quer dizer patrão?
Coronel Alonso: — É isso mesmo que ouviu. Tá aqui, na fresca, enquanto há muito trabalho a ser feito lá em cima! Você tem corpo mole, Raimundo. Igualzinho ao seu pai.
Raimundo dos Reis: — Mas é meu horário de almoço, Coronel.
Coronel Alonso: (Desceu do cavalo, a cara vermelha de indignação) — Cê ainda quer discutir? Você acha que seu tempo vale alguma coisa para mim? Vou te mostrar o que dá ser respondão, como fiz com seu pai!
Alonso desembainhou o chicote, não para bater no cavalo, mas para empurrar o empregado. A ponta de couro atingiu as costas de Raimundo.
Coronel Alonso: — Vai trabalhar, moleque!
Raimundo não se moveu. Ele se virou lentamente, e o Coronel Alonso viu nos olhos daquele homem o brilho que não via desde o dia que matou Zé.
O Coronel avançou, mas parou. Raimundo, sem pressa, ergueu uma pesada garrucha de antecarga, um pistolão antigo, dois canos largos, carregado com pólvora negra. Uma arma de caçador, mas que servia bem para um acerto de contas.
Coronel Alonso: (O pavor finalmente alcançando sua voz arrogante) — O que é isso, Raimundo? Larga essa arma, seu louco!
Raimundo dos Reis: — Meu pai me disse uma vez que um homem só tem duas coisas que ninguém pode tomar: o nome e a honra. O senhor tirou a honra dele e a vida dele. E o senhor nunca me viu de joelhos.
Coronel Alonso: — Eu te dou mais dinheiro! O que você quiser!
Raimundo dos Reis: — Não quero dinheiro. Eu quero que o senhor pague o que deve.
Raimundo apertou o gatilho.
Foi um estampido seco, alto, uma nuvem branca de fumaça e cheiro de pólvora que subiu do cano da garrucha. O tiro, de baixo para cima, rasgou o lado esquerdo do peito do Coronel Alonso. Ele cambaleou, as mãos subindo para o ferimento, e caiu. O corpo rolou e parou na beira da água. Não houve um gemido.
Raimundo jogou a arma no riacho.
Ele correu. Passou na cabana da mãe, apertou-a em um abraço mudo e forte, e disse apenas:
Raimundo dos Reis: — Mãe, está feito. Não espere por mim.
Ela olhou o filho, já sabendo o que significava aquele olhar.
Mãe: — Vá, meu filho. Deus te guie.
Raimundo sumiu na mata, a lenda nascendo a cada passo que o afastava da fazenda. A arrogância do Coronel Alonso terminou ali, na beira do riacho. A notícia correu como fogo na palha seca.
Os outros coronéis e fazendeiros ficaram em alerta. Não era apenas um trabalhador que matava um patrão; era o filho do homem humilhado que cobrava o passado. Era um aviso, um lembrete sangrento de que a dignidade, mesmo forçada à subserviência por anos, sempre encontra uma maneira de se levantar.
Ninguém nunca mais soube de Raimundo dos Reis. Mas a história dele, essa sim, ficou na região, contada à sombra, em sussurros de esperança e vingança, perpetuando o nome de um homem que trocou o medo pela liberdade na beira de um córrego.
A arrogância tem o prazo de validade de um tiro de garrucha. E a justiça, às vezes, só chega pelas mãos de quem foi mais ferido.
Esta obra é uma peça de ficção. Os personagens, nomes, locais e eventos descritos neste conto são fruto da imaginação do autor e não possuem qualquer relação com pessoas reais, vivas ou falecidas, ou com fatos e ocorrências da vida real. Qualquer semelhança será mera coincidência. A imagem é gerada por Inteligência Articial. Este conto fará parte do livro "Contos da Estrada", do autor.